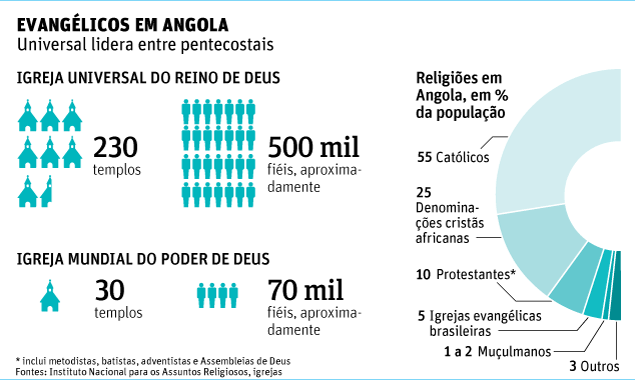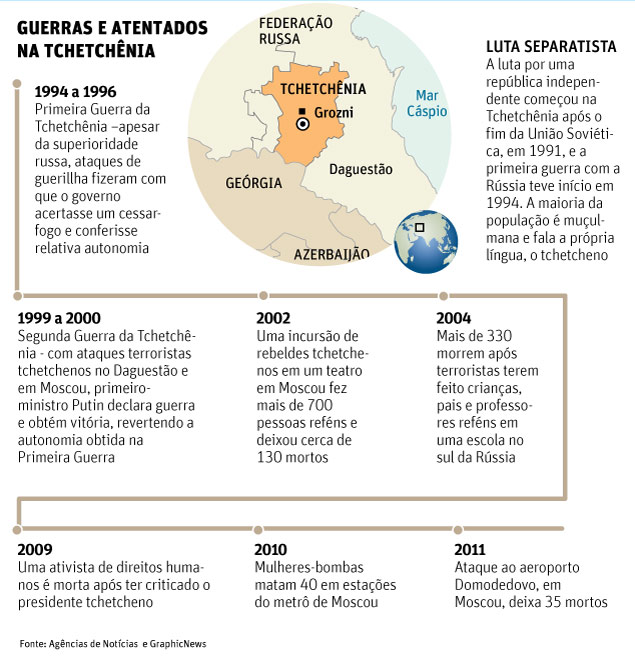O Brasil é um dos países que mais investem na compra e na distribuição de livros para as escolas. Só em 2013, o governo federal entregou 6,7 milhões de obras literárias, um investimento de 66 milhões de reais. No entanto, a política de distribuição de livros, protagonizada principalmente pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), não se traduziu na apropriação do livro, tampouco na formação de leitores. Na maioria das vezes, as obras literárias não saem das caixas.
Foi o que constatou a pesquisadora Aparecida Paiva, organizadora e uma das autoras do livroLiteratura Fora da Caixa – O PNBE na escola, publicado pela Editora Unesp. Segundo a professora de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, a formação incipiente de mediadores de leitura e a falta de entendimento do livro como um bem cultural ajudam a explicar por que as obras literárias não chegam aos estudantes.
“Muitos professores nem sabem que os livros chegam à escola”, afirma Aparecida, que conversou com Carta Fundamental sobre o PNBE, sua inserção nas instituições e a importância da literatura como uma possibilidade de educação cultural que não pode ser puramente escolarizada.
Carta Fundamental: O que falta para que uma política de distribuição de livros, como a do PNBE, seja bem-sucedida?
Aparecida Paiva: Se nós circunscrevermos a conversa ao PNBE, é muito louvável a política que gasta milhões de reais por ano para atender as bibliotecas. O problema é que essa política universal de distribuição de livros não vem acompanhada de uma formação de mediadores de leitura. Antigamente, questionava-se que os alunos de escolas públicas não tinham acesso aos livros. Hoje os livros chegam às bibliotecas, mas permanecem dentro das caixas. O País precisaria investir em formação de mediadores de leitura, mas antes é necessário informar que os livros estão chegando. Muitos professores relatam que nunca souberam que esses livros chegavam às escolas. Se eles não sabem o paradeiro dos livros, como é que vamos pensar numa política de formação de leitores? Além da falta de informação, falta a formação do professor enquanto mediador. Se ele não é leitor, não terá a competência instalada de mediador de leitura. Também falta uma consciência de que a literatura transcende o processo de escolarização. Há um grande equívoco: consolida-se a distribuição dos livros sem o acompanhamento de uma política de formação de leitores.
CF: De forma geral, as bibliotecas escolares brasileiras possuem um bom acervo?
AP: Os acervos são bons. Grosso modo, as escolas públicas são abastecidas com essa grande política. O esperado é que pelo menos esses livros componham os acervos, além de algumas políticas municipais que também produzem seus kits e das compras autônomas de gestores. O paradoxo é que você gasta milhões, mas é muito pouco diante do conjunto de alunos e da dimensão do País. São poucos livros por acervo, nunca passa de cem por escola. Se um professor quiser fazer um trabalho com determinada obra, ele tem um ou dois exemplares no máximo para desenvolver isso com suas turmas. É pouco, mas quando se pensa no conjunto de livros, a quantidade distribuída é muito grande. Fica difícil.
CF: Que ações poderiam ser tomadas para que os livros não fiquem dentro das caixas?
AP: Primeiro, o MEC precisa fazer correspondências que não sejam apenas uma carta dentro das caixas. Precisava haver uma política de divulgação da chegada dos livros de literatura nas escolas. Além isso, o diretor tem de se comprometer com a divulgação: acionar o coordenador, o professor, o bibliotecário, o auxiliar da biblioteca, e divulgar. O MEC tem uma distribuição de materiais generosa e, às vezes, os gestores ficam atordoados com o volume dos materiais. Sem o devido esclarecimento da política, você não pode responsabilizar o gestor e deixar a iniciativa correr por conta de um profissional mais esclarecido. Todos na escola precisam divulgar e se apropriar do livro. Não adianta imaginar que o único endereçamento do livro seja para o professor de Português e para o responsável pela biblioteca. Boa vontade dos profissionais que estão na escola existe, mas entre sair do discurso de que o livro é importante para uma prática concreta de formação de leitores há um caminho muito longo.
CF: Quais as características esperadas de um bom mediador de leitura na escola?
AP: Ele tem de ser um leitor, gostar de literatura, não interessa o gênero. Ele precisa estar disposto a viver o inusitado, precisa ter disponibilidade e competência para articular esse texto literário com o cotidiano e com o con-
teúdo que ele ministra. O problema é que essa característica do mediador fica muito no âmbito do escolar, enquanto se deveria pensar no leitor perene, para fora dos muros da escola. O mediador precisa entender que a literatura é uma possibilidade de educação cultural, da educação da sensibilidade do ser humano, que não pode ser puramente escolarizada. Ele tem de investir sem pensar num resultado imediato.
CF: Assim como acontece com as leituras para o vestibular?
AP: Exatamente. Já entrevistei muitos professores que dizem que quando eram adolescentes liam muito, mas depois que passaram no vestibular só leem livros técnicos da sua área. Esse é o leitor que parou nas obrigações escolares, que não faz uso social da literatura, não se apropria dela como um lazer. Na verdade, evito citar características de um bom mediador de leitura, não tem como traçar um perfil. Houve uma pesquisa na UFMG para distinguir qual era o melhor alfabetizador, cruzaram-se vários dados: formação, idade, tempo de serviço, experiência em salas de alfabetização, remuneração. A única coisa comum a todos os bons alfabetizadores era gostar de alfabetizar, era ter prazer em acompanhar o desenvolvimento da criança em contato com a escrita. A pessoa tem de gostar de literatura, mas também se convencer de que aquilo é um bem a ser transmitido, do contrário aquilo permanece no foro íntimo, como uma atitude pessoal. Na verdade, precisamos reconhecer que a literatura amplia horizontes, desenvolve a capacidade leitora. Apropriações escolares ajudam, mas queremos muito mais.
CF: A última pesquisa Retratos da Leitura aponta o professor como principal influenciador da leitura.
AP: Essa foi a nossa grande alegria. Porque o núcleo familiar sempre predominou como os maiores incentivadores da leitura e esse deslocamento para o professor pode ser lido de uma forma muito positiva. É muito bom trabalhar esse dado com os professores, falar que eles podem fazer diferença. Porém, nós que investigamos o campo de pesquisa precisamos pensar em outras coisas. As crianças de escola pública só têm acesso aos livros na escola. É a escola que faz a mediação, porque as famílias estão subnutridas de leitura. O resultado do professor como mediador é incontestável, já avançamos muito. Mas sempre é o professor, aquele que faz a diferença na vida do aluno. Precisava ser uma coisa mais consistente, uma ação educacional mais colegiada na escola, no sentido de eleger a formação de leitores não pelo viés da avaliação de proficiência em leitura, mas porque queremos formar cidadãos conscientes, que leem e que podem fazer descobertas incríveis por meio do texto literário, que é capaz de romper com grilhões de formatação de educação.
CF: Quem são os profissionais que trabalham nas bibliotecas escolares?
AP: Na escola pública, são muito poucos, sem carreira. O curso de Biblioteconomia sofreu reformulações grandes e muitos não querem ser bibliotecários escolares, querem perseguir outras carreiras. Começa por aí, não tem um bibliotecário por escola, muitas vezes um bibliotecário atende dez escolas do seu polo. O auxiliar de biblioteca ou o responsável, em grande parte é o professor em desvio de função, que não tem condições de estar em sala de aula, ou é aquele profissional de nível médio, de qualquer área, que faz concurso para trabalhar nas bibliotecas escolares.
CF: Eles são valorizados dentro da instituição de ensino?
AP: Ele é pouco valorizado porque não se investe no papel de fomentador cultural e de formador de leitor. Ele é o guardião de livros: cuida, cataloga e abre ocasionalmente a biblioteca para os alunos acessarem. Às vezes ele até fecha a biblioteca na hora do recreio, no único horário que os alunos podem acessar. E não recebe formação específica nenhuma para trabalhar como formador de leitores. As condições são muito precárias: eles trabalham sozinhos, dobram turno, a biblioteca fica fechada, os armários ficam trancados porque os livros não podem sumir. A realidade das bibliotecas escolares brasileiras é muito dramática. Pode ser uma visão pessimista, mas não vejo ainda o trabalho do bibliotecário como um educador, como um profissional integrado na escola, salvo exceções.
CF: Além de não fazer esse trabalho de formação de leitores, o responsável pode até dificultar o acesso aos livros?
AP: Já presenciei professores que não têm a menor condição de receber os alunos na biblioteca, um espaço que é tudo e nada ao mesmo tempo: lá se guardam livros, mas é também lugar de castigo por indisciplina, é onde se guardam os recursos audiovisuais, é sala de reunião para os professores. Como um espaço que é tudo e nada pode ser identificado como um espaço de leitura? A luta pela biblioteca de verdade ainda é muito grande.
CF: Como o bibliotecário pode atrair as crianças para a biblioteca da escola? Um acervo com obras mais próximas da juventude pode ser um caminho?
AP: Qualquer livro é uma isca. Muitas vezes a comunidade de leitores que se forma fora da escola é mais poderosa do que a de dentro. Como os meninos não querem ficar excluídos dos assuntos da turma, eles fazem fila para pegar o livro da vez. Se o profissional estiver atento a isso, pode sugerir outros títulos, tem de mostrar mais, tem de atrair. Levar os meninos para a biblioteca pode ser um segundo passo, antes, ele deveria ir para a sala de aula fazer propaganda da biblioteca. Tudo esbarra no projeto político pedagógico da escola. Jeito tem, basta querer.